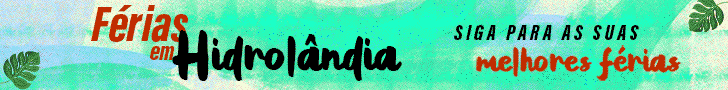Opinião: “Se eu fosse pai, seria amado”: fala de Odete Roitman expõe desigualdade entre maternidade e paternidade
Débora Bloch dá voz à personagem que escancara a sobrecarga das mulheres e a romantização da ausência paterna na sociedade brasileira
Uma fala dita na novela da noite passada reverberou nas redes, nas conversas de rua e, sobretudo, no debate público sobre a condição feminina no Brasil. Interpretada por Débora Bloch, a personagem Odete Roitman fez uma das declarações mais contundentes da teledramaturgia recente:
“Ser mãe exige muita submissão, muita abnegação. É até um pouco humilhante. Eu não nasci pra ser mãe à força. Talvez eu até tenha nascido pra ser pai. Um pai ausente, como quase todos. Um exemplo de sucesso. Um provedor, com certeza. E vocês iam me amar se eu fosse pai.”
O que parece, à primeira vista, uma fala ácida, se revela como uma crítica social profunda. A personagem não apenas questiona o peso histórico imposto à maternidade, como também escancara a desigualdade estrutural na construção dos papéis parentais.
Desigualdade histórica entre ser mãe e ser pai
Na sociedade brasileira — e, de forma ampla, na cultura ocidental —, o peso da parentalidade não é dividido de forma igualitária. Enquanto as mulheres são socialmente responsabilizadas pelo cuidado integral dos filhos, os homens, historicamente, foram autorizados a exercer uma paternidade distante, centrada no provimento financeiro e na autoridade simbólica.
Segundo dados do IBGE (2023), o Brasil tem mais de 11 milhões de famílias chefiadas por mulheres sem a presença do pai. Estudo do Instituto Promundo (2022) aponta que 46% das crianças brasileiras crescem com pais parcial ou totalmente ausentes.
A frase de Odete — “Talvez eu tenha nascido para ser pai. Um pai ausente, como quase todos” — é mais do que uma provocação dramatúrgica. É um retrato cruel e realista de uma sociedade que, há séculos, romantiza a ausência paterna e sobrecarrega mulheres com a função exclusiva do cuidado.
A maternidade como imposição social
Para além da relação afetiva, o que Odete verbaliza é a denúncia de um contrato social silencioso, que espera que toda mulher seja, necessariamente, mãe — e que exerça a maternidade de forma plena, devotada e muitas vezes à custa de si mesma.
De acordo com o relatório “Sem Parar – O Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia”, produzido pela Gênero e Número (2021), 50% das mulheres brasileiras com filhos se sentem sobrecarregadas, e 41% relatam sintomas de ansiedade e depressão diretamente ligados à exaustão materna.
Quando Odete diz que ser mãe é “humilhante”, não se refere ao amor pelos filhos, que ela reafirma, mas à condição estrutural que impõe à mulher o sacrifício da própria identidade, do tempo, da carreira e até da saúde mental em nome de um ideal de maternidade que nunca é cobrado dos homens.
O privilégio social da ausência masculina
No Brasil, a paternidade é, muitas vezes, tratada como um bônus, nunca como uma obrigação. A figura do pai presente ainda é lida como uma virtude, quase uma exceção admirável, enquanto a mãe que demonstra cansaço ou desejo de autonomia é frequentemente taxada de egoísta.
“Vocês iam me amar se eu fosse pai”, diz Odete. A frase sintetiza um abismo afetivo e social: a homens basta estar financeiramente disponíveis para serem reconhecidos como bons pais. Já as mulheres precisam estar emocionalmente, fisicamente e mentalmente disponíveis — o tempo todo — para serem vistas, minimamente, como boas mães.
Débora Bloch dá potência à crítica social
A força da cena também reside na escolha de quem dá voz à personagem. Ao longo de sua carreira, Débora Bloch construiu uma trajetória marcada por personagens femininas que questionam papéis tradicionais e desafiam as estruturas sociais.
Diferente da Odete Roitman vilanesca da década de 1980, esta Odete não é uma antagonista. É, antes, a representação de um arquétipo de mulher que ama, mas que se recusa a aceitar o amor como justificativa para a anulação de si.
Repercussão social e cultural
A cena rapidamente ganhou as redes sociais. Grupos feministas, coletivos de mães e movimentos que discutem parentalidade dividiram o vídeo como um manifesto involuntário contra a romantização da maternidade e a normalização da paternidade ausente.
Organizações como “Mães que Pensam”, “Não Sou Obrigada” e perfis voltados à discussão de gênero e trabalho invisível passaram a utilizar a fala como ponto de partida para reflexões mais amplas sobre o modelo de família tradicional.
Reflexo social ou revolução cultural?
A fala de Odete não é isolada. Ela se insere em um movimento crescente, em escala global, de mulheres que recusam a maternidade como imposição, que questionam o modelo do cuidado como responsabilidade exclusiva das mulheres e que exigem a revisão do contrato social que organiza a vida familiar e afetiva.
Na prática, é o reflexo de uma geração que não aceita mais amar às custas da própria anulação. E que olha para a estrutura social e pergunta: até quando os homens serão celebrados pela ausência e as mulheres punidas pela tentativa de existir para além da função materna?
A fala que entra para a história da dramaturgia brasileira
“Eu gosto de ser assim, como eu sou. Eu te amo, mãe. É fácil ser seu filho. Mas eu te amo. Eu também te amo, meu filho.”
A cena não fecha um ciclo. Ela abre. Abre um debate urgente, necessário, que sai da ficção e entra — definitivamente — na vida real.